Publicações sobre os povos originários do Brasil
- Escola de Botânica
- 19 de abr. de 2021
- 5 min de leitura
Atualizado: 18 de abr. de 2022

Anualmente é celebrado no Brasil em 19 de Abril, o Dia do Índio que recorda a realização do Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que ocorreu na mesma data em 1940 em Patzcuaro, no México. Este congresso teve como objetivo reunir os líderes dos povos originários de diferentes regiões do continente americano para zelar e despertar atenção pelos seus direitos.
A data foi oficializada no Brasil através do Decreto-lei nº 5.540, de 2 de junho de 1943, com o intuito de lembrar e esclarecer o quanto os povos originários exerceram o papel fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira. A Organização das Nações Unidas (ONU) também criou o Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto, para conscientização mundial sobre a importância de preservação e reconhecimento dos direitos indígenas.
Muito antes da chegada dos colonizadores nas américas, todo o território era amplamente povoado por muitas pessoas, que desenvolveram uma rica cultura abrangendo diversos costumes, línguas e conhecimentos que permanecem vivos na sociedade brasileira, ainda que muito tenha sido perdido em virtude das dizimações e preconceitos que recaíram sobre essas comunidades.
Entre as contribuições para a sociedade mundial, estão a domesticação e aproveitamento de várias plantas alimentares como por exemplo a mandioca, o milho, batata-doce, caju, abacaxi, amendoim, mamão, abóbora e feijão.

Cultivada em todos os Estados do Brasil e ingrediente básico da alimentação, o uso da mandioca (Manihot esculenta) vai muito além da culinária: dela é possível obter combustível, móveis de madeira compensada, peças de vestuário, cosméticos e remédios.
Os índios a domesticaram e desenvolveram a técnica de fabricação da farinha e o método de extrair seus elementos tóxicos (presente em todas as variedades, em maior ou menor grau).
A lenda da mandioca conta que uma jovem tupi deu à luz uma menina muito branca, chamada Mani. Mani era muito querida por todos, mas adoeceu e faleceu muito pequena. Seguindo a tradição da comunidade, a menina foi sepultada no interior da própria oca e poucos dias depois, nesse local nasceu uma planta. Ao cavar a terra para examinar a planta, viram que internamente suas raízes eram brancas como Mani e após cozidas, forneciam alimento abundante. A planta recebeu o nome manioca (casa de Mani).

Típica da região amazônica, vitória-régia (Victoria amazonica) é uma planta aquática e nativa, pertencente à família Nymphaeaceae. Sua origem é contada através de uma das lendas mais famosas do folclore brasileiro, de origem tupi-guarani.
Na mitologia tupi, Jaci é a deusa Lua (protetora das plantas, dos amantes e da reprodução) que ao se esconder atrás das montanhas, levava para si as mulheres de sua preferência e as transformava em estrelas.
Naiá era uma jovem guerreira que se apaixonou por Jaci e sonhava com o momento de ser levada. Apesar de alertada pelos anciãos, à noite Naiá perambulava pelas montanhas atrás da lua, mas nunca conseguia alcançá-la. Ao parar para descansar à beira de um lago, Naiá viu a imagem da lua refletida nas águas e acreditando ter finalmente encontrado Jaci, lançou-se ao lago e se afogou.
A lua, triste pela morte da moça, resolveu transformá-la em uma estrela diferente de todas que brilhavam no céu: transformou Naiá na "Estrela das Águas" - a planta vitória-régia, cujas flores perfumadas e brancas só abrem à noite, e ao nascer do sol ficam rosadas.

Além de costumes que foram incorporados ao cotidiano (como o banho diário), o legado indígena tem diversas lendas que passaram a compor o folclore brasileiro, assim como a nomeação de uma infinidade de lugares, pessoas, plantas, fungos e animais (cerca de 20 mil palavras).
O livro Mbaé Kaá o que tem na mata - A Botânica nomenclatura indígena de Barbosa Rodrigues (publicado pela Dantes) é uma defesa do conhecimento nativo diante do meio científico.
O autor João Barbosa Rodrigues (1842 - 1909) foi um engenheiro, naturalista e botânico brasileiro, diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde trabalhou até sua morte e criou o cargo de naturalista viajante, para enfatizar a importância da pesquisa de campo. Realizou diversas expedições, inclusive no vale do Rio Amazonas, de 1872 a 1874, com o objetivo de complementar os estudos sobre palmeiras de von Martius. Entre suas publicações, destaca-se seu trabalho sobre orquídeas, dividido em três volumes, Genera et species orchidearum novarum e a Iconografia das Orquídeas Brasileiras. Viveu entre os Crichaná no meio da selva amazônica, com quem estudou e aprendeu a nomenclatura botânica indígena.
Publicado pela primeira vez em 1905, este livro é de fundamental importância para apoiar e reconhecer a sabedoria indígena no Brasil e no mundo.
Esta nova edição, ilustrada por estudantes Guarani da aldeia Pyau, traz o entendimento da forma como os povos originários utilizam características minuciosas das plantas para criar seu próprio sistema taxonômico de classificação de espécies vegetais, tendo como base a estruturação do tupi e suas raízes, que permite juntar palavras em nomes compostos e criar famílias, gêneros e subgêneros, com a mesma complexidade do sistema científico de Carolus Linnaeus (1707 - 1778).
O tupi foi banido oficialmente em 1755 por decreto de Sebastião José de Carvalho e Melo - o Marquês de Pombal (1699 – 1782) que oficializou a língua portuguesa como a única língua do Brasil.
Esta publicação vem nos mostrar que através da valorização e preservação da cultura indígena, teremos o único caminho para acessar esse conhecimento ímpar sobre inúmeros segredos milenares da floresta e da natureza.
Publicações gratuitas
Para difundir e popularizar o conhecimento dos povos originários do Brasil, compilamos uma série de publicações e artigos que estão gratuitamente disponibilizados. Os conteúdos são de responsabilidade de cada autor/instituição.
Compartilhe com mais pessoas que se interessam pelo tema e contribua para a preservação dessas tradições e conhecimentos tão importantes para o povo brasileiro e para o mundo.
Acesse cada publicação através do link abaixo do respectivo título:
Ana Amopö: Cogumelos Yanomami
Aprendendo com a Natureza: conservando nossos conhecimentos culturais
Cartilha de plantas medicinais (Rau Xarabu): Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda, Feijó, Acre, Brasil
Diálogos entre Gerações na Floresta
Estudos etnobotânicos em comunidades indígenas no Brasil
Legumes, Frutas, Bichos e os Índios: A Ecologia da Floresta
Manual de etnobotânica: plantas, artefatos e conhecimentos indígenas
Manual dos remédios tradicionais Yanomami
Nũ Hiwea Inũ, Betsa Betsapa Hiweabu – Nossa Biodiversidade nossa Vida
Yuimaki – Intercâmbio Indígena de Sementes Tradicionais no Alto Juruá
Pohã Ñana: nãnombarete, tekoha, guarani ha kaiowá arandu rehegua
Plantas medicinais: fortalecimento, território e memória Guarani e Kaiowá
Povos indígenas no Acre
Bibliografia
Para saber mais sobre a cultura e as questões indígenas, sugerimos os seguintes livros abaixo listados, que podem ser encontrados em livrarias, sebos ou através das informações contidas nos links:
1499 o Brasil antes de Cabral
A queda do céu
Mbaé Kaá, o que tem na mata. A botânica nomenclatura indígena
O amanhã não está à venda
Por: Patrícia Dijigow














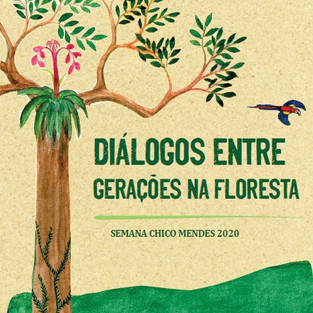







Comentários